Dossier "Los Campesinos en la Historia"
O conceito de campesinato e o estudo da Inglaterra Anglossaxônica: disputas germanistas
Resumo: O presente artigo tem como objetivo discutir como o conceito de campesinato utilizado para a Inglaterra Anglo-Saxônica está inserido nos debates sobre as sociedades germânicas. Estes debates remontam ao século XIX e estão tintos de elementos nacionalistas, projetando na Idade Média as suas respectivas origens nacionais e étnico-raciais. A hipótese principal do artigo é que o(s) conceito(s) de campesinato e (mais amplamente) a visão da sociedade anglossaxã constitui uma visão germanista liberal, que emergiu contraposta à proposição do germanismo formulada pelos nazistas.
Palavras-chave: História medieval, Inglaterra anglo-saxônica, Germanismo, Campesinato.
The concept of peasantry and the study of Anglo-Saxon England: germanist disputes
Abstract: The current article aims to discuss the concept of peasantry on Anglo-Saxon England, and how this concept is moulded by the debates about Germanic societies. Such debates started on the 19th Century and are filled by nationalist elements; each country projecting on the Middle Ages their national and ethnic and/or racial origins. The main hypothesis of the article is that the concept of peasantry and (more broadly) the vision of Anglo-Saxon society embodies a liberal Germanist point-of-view, which emerged by opposition of the Nazi formulation of German societies in the past.
Keywords: Medieval History, Anglo-Saxon England, Germanism, Peasantry.
El concepto de campesinado y el estudio de la Inglaterra anglosajona: disputas germanistas
Resumen: Este artículo tiene como objetivo discutir cómo el concepto de campesinado utilizado por la Inglaterra anglosajona se inserta en los debates sobre las sociedades germánicas. Estos debates remontan al siglo XIX y están teñidos de elementos nacionalistas, proyectando en la Edad Media sus respectivos orígenes nacionales y étnico-raciales. La principal hipótesis del artículo es que el (los) concepto (s) de campesinado y (más ampliamente) la visión de la sociedad anglosajona constituyen una visión germanista liberal, que surgió en oposición a la proposición del germanismo formulada por los nazis.
Palabras clave: Historia medieval, Inglaterra Anglosajona, Germanismo, Campesinado.
1) Introdução
O século1 XIX foi marcardo pela consolidação da História como disciplina acadêmica e científica na Europa Ocidental. Neste processo, a disciplina histórica estava vinculada a uma narrativa marcada por um viés nacionalista. A Idade Média costuma gozar de prestígio neste cenário, sendo caracterizada como o nascimento e a infância dos Estados-nação europeus e o período de surgimento do que convenciou ser chamado de Ocidente (Franco Jr, 2001, p. 19-20). A formulação proposta pelo século XIX não se esgotou no próprio século, e ecoou pelo XX e até mesmo o XXI.
O início do século XX foi marcado pela ascensão das narrativas nacionalistas, em especial no período do pós primeira guerra. Neste contexto, a historiografia europeia hegemônica discutia suas respectivas origens a partir da Antiguidade e da Idade Média. A discussão para saber as reais cores da natureza européia remonta ao século XVIII, atravessa o XIX e chega ao XX, na forma do debate entre germanistas e romanistas. Este debate discutiria se cada país teria suas raízes mais firmemente entrelaçadas no mundo romano ou se estas na verdade estariam mais fincadas na matriz germana (Nicolet, 2003).
No âmbito destas discussões, as questões que envolviam as sociedades germânicas tanto na Antiguidade quanto no medievo ganharam corpo. A reinvindicação de uma origem germânica foi especialmente marcante nas regiões nas quais o império romano possuiu pouca fixação ou que não chegou a conquistar. Embora a matriz germânica fosse comum a estas localidades, a forma com que estas viam suas respectivas origens no início da Idade Média e/ou Antiguidade variavam. Este artigo pretende investigar como que a visão do período anglossaxônico foi consolidada nos anos 1930 e, principalmente, 1940, dentro desta discussão de caráter germanista. A principal hipótese deste artigo é que a visão sobre a sociedade anglossaxã constitui uma visão germanista liberal, que emergiu ao mesmo tempo a partir dos desenvolvimentos próprios da produção acadêmica inglesa anterior, mas que também foi contraposta à proposição do germanismo formulada pelos nazistas. Neste sentido, um dos elementos fundamentais é a figura do campesinato independente e as formas de propriedades existentes no período, assim como sua relação com os demais estatutos sociais.
O caminho tomado pelo artigo para desenvolver estas ideias começará por apresentar os debates sobre as sociedades germânicas no século XIX e início do XX, e como estes eram figurados em manuais escolares. Em seguida, o artigo analisará as discussões acerca do pangermanismo em algumas de suas vertentes. O estudo proposto se concentrará sobre o impacto da grande obra de síntese sobre a Inglaterra Anglossaxônica: “Anglo-Saxon England”, de Frank Stenton. Em seguida, apresentaremos o desenvolvimento do entendimento da historiografia envolvendo relações de trabalho na Inglaterra Anglossaxônica, destacando o peso que a leitura (germanista) de Stenton ainda exerce. A hipótese que este trabalho tentará demonstrar quanto a esta questão é que em função da escassez de trabalhos de síntese específicos sobre o campesinato na Inglaterra Anglossaxã, a leitura que subsiste ainda é fortemente influenciada pelo germanismo dos séculos anteriores.
2) Os debates sobre sociedades germânicas no século XIX e início do XX e as leituras de passado
2.a) O germanismo continental
A discussão sobre as sociedades germânicas floresceu entre os séculos XIX e XX em função de um solo acadêmico já fertilizado por discussões em séculos anteriores. O fertilizante utilizado por estas discussões foram as discussões sobre raça. O Iluminismo a princípio dividiu a humanidade em quatro grupos: homo europaeus, homo asiaticus, homo africanus e homo americanus, relacionando a questão da raça a uma espacialidade específica (Young, 2016, p. 7). A quantidade de material produzido em seguida acerca das questões raciais foi enorme, sem grande consenso sobre exatamente quantas raças e subraças existiriam, nem mesmo sobre o que seria uma raça (Smith, 2012).
As discussões raciais que buscavam dissecar e compreender o homem europeu possuíam subdivisões nacionais. Entre estas, estavam aquelas ligadas à caracterização dos elementos raciais do homem germânico. A principal fonte para o entedimento do que seriam os povos germânicos são os escritos de Tácito (c. 56- c. 117), datados da Antiguidade. Nestes, em especial na Germania, os povos germânicos aparecem como viris, marciais, amantes da própria liberdade, endogâmicos – e portanto, com nível considerável do que os séculos XVIII e XIX consideravam pureza racial. A continuidade (genética) entre os germanos descritos por Tácito está expressa em uma edição de 1851 da Germania de Tácito, editada por R. G. Latham em 1851. Latham, etnólogo e filólogo diz que “a atual distribuição de [...] nações descendentes [...] dos germanos descritos por Tácito se estendem ao leste até a Austrália, ao oeste até a América, ao norte até a Finlândia, e ao sul até a Nova Zelândia” (Latham, 1851, p. i).
A conexão entre linguística e racialização é expressa também nos campos de atuação acadêmica de Latham. Etnologia e filologia são entendidas, nesta época, como ciências próximas e complementares, por conta do entendimento de que a cultura não pode ser compreendida de forma separada da biologia e de suas determinações (Young, 2016, p. 6-9). Estas ideias também estavam presentes na discussões sobre o pan-germanismo.
O pan-germanismo surge no continente europeu como uma tentativa de unificar todos os povos considerados germânicos (ou falantes de uma variação linguística germânica) sob um estado-nação. Este estado seria o conhecido como Großdeutschland, ou Grande Germânia (Kirk, 2002). Esta ideologia foi muito influente na Alemanha durante sua unificação, mas também no Império Austro-Húngaro, em especial no último quartel do século XIX e no início do XX (Kirk, 2002, p. 20-22). A fatia da população que se identificava com e promovia estes ideais era basicamente de homens jovens, de classe média alta. A noção de ser germânico estava associada a uma cultura germânica, que deveria prezar pelo purismo linguístico. Este purismo chegou a defender uma nomenclatura pré-clássica, “teutônica” para o calendário e o culto a Woden no solstício (Kirk, 2002, p. 21). O pan-germanismo não se limitou à Alemanha. Alguns países escandinavos também defendiam a integração de seus respectivos países à orgem pan-germânica (Adams, 1993, p. 95). Algumas vezes, este fenômeno é chamado de pan-germanicismo para diferenciar do pan-germanismo continental (Pedersen, 1998, p. 74).
A influência da descrição de Tácito na formulação do que seria a raça germânica nos debates do século XIX é considerável. A valoração positiva dos germânicos pelo autor romano, em contraposição à decadente sociedade romana, compôs um elemento recorrente nas discussões. Além disso, a divisão social descrita por Tácito servia a uma ideologia junker no processo de unificação alemã. A divisão social estaria caracterizada por uma aristocracia guerreira, no seio da qual a liderança política emergeria, por um lado; na outra ponta do espectro social, uma parcela da população radicada na atividade produtiva, vivendo uma vida camponesa. Em outras palavras: para este tipo de germanismo, a base social germânica era um conjunto de camponeses liderados pelos seus aristocratas, unidos em um sentido de coletividade e patriotismo. A figura individual é irrelevante perante este conjunto mais amplo. Da mesma forma, a apropriação do solo e da terra não parece ter tanta importância, e inexistir do ponto de vista individual ou individualizante. A idealização de uma sociedade dividida desta forma, e vista como harmoniosa e sem conflitos (de classe) tornou-se hegemônica nas discussões racial-nacionalistas sobre o germanismo (Mosse, 1964). A dependência da burguesia alemã do autoritarismo dos junkers fez com que a a burguesia se tornasse ideologicamente dependente da aristocracia junker, segundo Lukács (Lukács, 1968, p. 9-10). Portanto, estas leituras sobre a sociedade germânica coevas a Tácito teriam solo mais fecundo para enraizamento.
A vinculação com o passado germânico da Antiguidade e da Idade Média não estava restrita à Europa continental. A Inglaterra também se vinculava a este debate, ainda que de forma diferente daquela do continente. A tendência dominante da medievalística inglesa do século XIX e até meados do século XX atribui à Inglaterra um caráter excepecional, diferenciado do continente. Esta postura contrasta, por exemplo, com a leitura da historiografia francesa, que comumente projeta modelos explicativos de regiões que na Idade Média coincidiam com a atual França para o conjunto do ocidente medieval (Rio, 2017, p. 1-2, n. 2). É necessário, portanto, passar a entender como os elementos do germanismo adentraram a discussão sobre o passado (alto) medieval inglês.
2.b) O germanismo anglossaxão
A Inglaterra começou a explorar seu passado medieval já na renascença, tal qual outras regiões européias. O caminho trilhado para a consolidação no campo de estudos sobre o mundo anglossaxão é comumente identificado como começando nas coletâneas de manuscritos realizadas pelo Arcebispo Parker, da Cantuária (1504-1575); indo até o trabalho dos filólogos do XIX (Klaeber), passando pelos antiquaristas do XVII (Warton, Percy e Gray, por exemplo) (Murphy, 1982). Porém, é em fins do século XIX que estes elementos se cruzam e se popularizam.
Em 1870 foi aprovado o chamado “Ato de Educação Elementar”, também conhecido como Forster’s Education Act. Esta lei estabelecia parâmetros escolares para todas as crianças na Inglaterra e em Gales, entre 5 e 12 anos (embora não tornasse esta educação compulsória ou gratuita) (Middleton, 1970). Os livros que sintetizavam a história britânica, exigidos pela citada lei, seguiram três possibilidades de estrutura. A primeira foi a de volumes em série escritos por um único autor, geralmente um gentleman, em tempos vitorianos. O mais famoso e bem sucedido foi a “History of England” de Macaulay, publicado entre 1855 e 1861. Outro autor muito bem sucedido foi Stubbs, que produziu entre 1873 e 1878 a sua “Constituional History of England” em três volumes; e em 1902, também em três volumes o seu “Student's History of England”. Estes volumes começaram com a invasão de César à ilha; os últimos a serem publicados encerravam com a morte da rainha Vitória (Grant, 1995, p. 14). O segundo formato de síntese sobre a história inglesa tomou a forma de volumes únicos, mais adaptado a um público leitor massificado. O mais importante foi o de J. R. Green, entitulado “Short History of the English People”, publicado pela primeira vez em 1874. Como Grant aponta, a proximidade com o ato institucional não pode ser mera coincidência. O terceiro formato de história nacional surgido foi a de divisão em muitos volumes, com diversos autores, e composto por profissionais acadêmicos, que redigiam sua narrativa sobre o seu contexto de especialidade. (Grant, 1995, p. 15). Estes três formatos possuíam muitas diferenças, mas também havia elementos em comum. Entre os pontos em comum estavam o fato de ser uma história da Inglaterra, e não do Reino Unido. Além disso, a história propriamente inglesa começava a partir da introdução de três povos germânicos na ilha britânica: os anglos, os saxões e os jutos. (Grant, 1995).
A narrativa destes três povos compondo a base étnica da fundação dos reinos anglossaxões foi construída por Beda, o Venerável (m. 735) (HE, I, 15). Segundo esta narrativa, após algum tempo, anglos, jutos e saxões convergiram de forma a se tornarem razoavelmente homogêneos (identitariamente), formando o povo que dá titulo à História Eclesiástica: os anglos (Myers, 1986). A historiografia, contudo, convencionou chamar os reinos e povos deste contexto (ou seja, a alta Idade Média inglesa) como anglossaxões, termo que perdura até o presente.
Para os séculos XIX e início do XX, alguns elementos-chave caracterizavam o entendimento da composição étnico-racial destes reinos anglossaxões. Em primeiro lugar, ao contrário do continente, a presença romana não teria criado raízes profundas. O baixo nível de romanização da ilha e a retirada das tropas romanas no século V teriam sido responsáveis pela evacuação dos elementos romanizantes, restando apenas os povos de origem celta romanizados em algum nível. Para esta historiografia, estes povos celtas teriam sido então conquistados pelos germânicos anglos, jutos e saxões, sendo transformados majoritariamente em escravos. Tal qual na leitura germanista continental, permanece a ideia de uma endogamia dos povos de origem germânica, produzindo portanto um entendimento, implícito ou explícito, de pureza genético racial (MacDougall, 1982). A idéia de uma nação inglesa, uma língua inglesa e uma raça anglossaxã foi construída por filólogos, de forma a considerá-las entrelaçadas, e a Idade Média seria o período de origem para todos estes elementos e o cadinho de fusão deles (Young, 2016, p. 21). Os estudos sobre o mundo anglossaxão foram um elemento-chave para a construção de um mito que alicerçou uma identidade étno-nacional nos Estados Unidos e Austrália, assim como na Bretanha, no século XIX e início no XX (Horsman, 1981; Young, 2015).
A discussão sobre a questão fundiária e a caracterização social na passagem do século XIX para o XX produziu duas visões antagônicas. A primeira delas tem sua expressão mais acabada na obra “History of English Law before the Time of Edward I”, publicada pela primeira vez em 1895 por Frederic Maitland e Frederick Pollock (Maitland & Pollock, 2010). Esta perspectiva se concentra sobretudo na discussão sobre propriedade fundiária (land tenure), sobretudo em sua visão jurídica da história. Para esta linha de pensamento, baseada na coleta de diplomas de propriedade realizada por John Mitchell Kemble, o conceito de propriedade fundiária não é encontrado na sociedade anglo-saxã até o século XI. Para Maitland, a propriedade fundiária só é claramente reconhecível no direito romano. Ainda de acordo com esta perspectiva, é apenas no século XI que os traços de legislação romana se reúnem a ponto de haver um renascimento deste tipo de propriedade e das suas consequências sociais. A principal destas consequências para a reflexão neste artigo é o desenvolvimento de uma aristocracia dominante a partir do controle de terras e do campesinato (Maitland & Pollock, 2010, p. 25-6). A análise de Maitland coloca-se claramente em uma posição germanista, apresentando a sociedade anglossaxã e suas estruturas sociais como herdeira e continuadora das tradições germânicas (Maitland & Pollock, 2010, p. 33-9). Segundo a proposta de Maitland e Pollock, o principal corte social se dá entre os camponeses independentes (ceorls) e a nobreza (eorls). Porém, para esta perspectiva, a nobreza (eorls) só teria surgido a partir do domínio viking em um período posterior, sendo os ceorls, portanto, a base da sociedade (Maitland & Pollock, 2010, p. 37). A definição mais precisa do significado do ceorl surgirá apenas em um momento posterior, na obra de Stenton (considerada um pouco adiante nesta seção).
A segunda visão historiográfica sobre a estrutura social anglossaxã encontra sua expressão mais vigorosa nos escritos de Hector Munro Chadwick (Chadwick, 1905). Para Chadwick, a estrutura social se apresenta de forma mais rígida em um período anterior. Na perspectiva defendida por este autor, as formas de propriedade assim como os aspectos de dominação social da aristocracia em relação ao campesinato se consolidam no século VII, com evidências claras nas regiões do Kent, Nortúmbria e Mércia (Chadwick, 1905, p. 103-114). Para Chadwick, os valores estabelecidos pelos wergelds revelam uma divisão social clara em que a aristocracia se expressa como grupo social dominante e o campesinato, por comparação, como enquadrado e dominado (Chadwick, 1905, p. 153-160). A aristocracia, por sua vez, desde muito cedo tem privilégios, direitos e deveres claros e estabelecidos, assim como as categorias em Old English para se referir a elas (eorls, gesith etc) possuiriam termos correspondentes em latim, tal qual em períodos posteriores (Chadwick, 1905, p. 161-170). Em outras palavras, a estrutura social já era mais rígida e mesmo feudal.
A obra mais fecunda a caracterizar os chamados reinos anglossaxônicos foi “Anglo-Saxon England”, redigida por Frank Stenton e que foi confeccionada no âmbito destas discussões (Stenton, 1970). Este livro representou um esforço de síntese considerado hercúleo: foi a primeira grande obra a unificar o desenvolvimento das áreas da arqueologia, da filologia, da história, do antiquarismo, da toponímia, da paelografia etc. (John, 1996). Esta grande narrativa pioneira tratava do que era considerado à época a origem da Inglaterra, sendo uma narrativa que parte da emergência dos reinos anglossaxões e do crescimento do poder régio, terminando na conquista pelos normandos e estabelecimento da realeza anglo-normanda.
O primeiro ponto a ser destacado desta narrativa é o seu impacto. A amplitude de áreas do conhecimento cobertas pelo livro, e sua narrativa coesa e de fácil e aprazível leitura o tornaram um clássico instantâneo. O conjunto da obra de Stenton lhe rendeu o título de “sir”, recebido cinco anos após a publicação de Anglo-Saxon England. O segundo ponto a ser destacado é como, apesar de ser um livro que preza pela historicidade, ele ainda assim é visto como o ponto de partida de uma origem nacional, marcada fortemente pelo elemento germânico. Stenton recupera e reafirma a afirmativa de Beda de caracterização das sociedades germânicas, embora reconheça outras possíveis tribos não mencionadas. Além disso, o elemento celta também não desaparece em sua leitura, mas não detém o protagonismo da narrativa. O terceiro ponto importante para o presente artigo é a questão da estrutura social descrita para a Inglaterra, em especial no período pré-viking, chamada no livro de early English society.
A estrutura proposta por Stenton define claramente que o campesinato livre é a base da sociedade, tanto no quesito numérico quanto na dinâmica da sociedade (Stenton, 1970, p. 277). Em outras palavras, Stenton se aproxima da leitura proposta por Maitland, porém a complexifica e a articula com evidências de naturezas bem mais diversas que as propostas por Maitland (majoritariamente jurídicas). Para Stenton, o que define este campesinato livre era a ligação direta com a realeza (não sendo esta relação mediada por um aristocrata) e a posse do hide. O hide era o lote de terra, unidade de medida capaz de sustentar uma família camponesa. Devido a variações geográficas, o tamanho de um hide variava. De acordo com a tradição historiográfica inaugurada por Stenton, quem detinha o hide era o ceorl, o termo em inglês antigo (old English) responsável por designar o camponês livre (Stenton, 1970, p. 290). Fundamental destacar aqui o impacto que o desenvolvimento da filologia teve para a sedimentação do campo do germanismo, presente em Maitland e em Stenton. A utilização dos termos considerados originais se dá justamente pelo impacto desta ciência na leitura histórica. Não por acaso, são exatamente os termos que persistem na historiografia, indicando a continuidade do peso do germanismo na leitura da sociedade anglossaxã (Higham e Ryan, 2015).
A forma de propriedade do campesinato, contudo, era vista como essencialmente diferente daquela proposta pelo germanismo continental (para a Germânia da Idade Média). Para Stenton, havia uma apropriação do solo de forma familiar, porém individual e privada. As terras menos produtivas foram ocupadas e desenvolvidas apenas a partir de iniciativas individuais (individual enterprise) (Stenton, 1970, p. 286). A conclusão da propriedade ser invididualizada (a partir do consentimento régio) é baseada na ausência de registro legal que mencione a propriedade de terra a uma família (Stenton, 1970, p. 318). Esta propriedade individualizada não aparece como completamente privada, e as obrigações públicas do campesinato são evidenciadas pelo autor. Estas inclusive figuram no texto como uma forma de organização social embrionária do que seria a Inglaterra moderna (Stenton, 1970, p. 287). Embora estas afirmações pareçam típicas de fins do século XIX e início do século XX, elas se mativeram até pelo menos a década de 1990. James Campbell, por exemplo, defende que “pode parecer extravagante descrever a Inglaterra alto-medieval como um ‘estado-nação’. Contudo, é inevitável” (Campbell, 1995, p. 31). Um dos motivos principais pelos quais Campbell conclui que a Inglaterra alto-medieval é um “estado-nação” é que este se alinha com a perspectiva de Chadwick a respeito da estrutura social anglossaxã, que seria muito próxima da Inglaterra medieval e moderna.
É vital sublinhar a historicidade do texto de Stenton. O mesmo foi publicado em 1943, durante a segunda guerra. Durou anos para ser elaborado, escrito e reescrito (John, 1996, p. 8). Como professor de Reading, Stenton certamente teve contato com as leituras germanistas e nazistas produzidas no continente nos anos de 1930 e mesmo durante a guerra. Em outras palavras, a narrativa histórica produzida por Stenton é uma forma de se contrapor ao germanismo vigente, hegemônico e vigoroso no continente (Kirk, 2002). A caracterização da Inglaterra anglossaxônica surge como uma forma de apresentar outros desenvolvimentos possíveis dos elementos germânicos, e, ao fazê-lo, ao mesmo tempo desnaturaliza os elementos nazistas projetados no passado continental e cria uma grande narrativa nacional unificada, de matriz liberal.
A leitura de Stenton sobre a divisão social e sobre o campesinato livre como base daquela sociedade ainda ecoa na historiografia, e em especial no que diz respeito às classes produtivas. É necessário, portanto, passar a entender como a historiografia atualmente entende estas. Para tal, abordaremos a caracterização da escravidão e do campesinato.
3) Relações de Trabalho na Inglaterra Anglossaxônica
3.a) Trabalho Escravo
A escravidão é uma relação social que pode ser encontrada em tempos antigos, medievais, modernos e contemporâneos. Contudo, há uma diferença significativa entre uma “sociedade com escravos” e uma “sociedade escravista” (Dal Lago e Katsari, 2008, p. 3). Há uma tendência historiográfica clássica que defende que o escravismo (enquanto sistema) só seja encontrado em dois contextos. O primeiro destes é a Antiguidade, em duas sociedades distintas: Grécia Clássica (especialmente Atenas) e, por um período maior de tempo, Roma (em especial a Península Itálica). O segundo contexto no qual o sistema escravista pode ser encontrado é na chamada Idade Moderna (geralmente entre os séculos XVII e XIX), nas regiões do sul dos Estados Unidos, Brasil e do Caribe (Finley, 1980). Contudo, a existência de uma socidade escravista não implica que escravos compõem a maior parte da força de trabalho, quantitativamente (Finley, 1985). Para Finley, esta caracterização deve ser articulada com quem são os senhores de escravos e qual o papel destes na economia (Finley, 1980, p. 83). Neste sentido, Ste Croix argumenta que a maior parte da renda da classe dominante veio de trabalho não-livre, principalmente dos latifúndios e da utilização de escravos em setores urbanos (Ste. Croix, 1981, p. 71). Finely conclui que a maior parte da renda dos setores dominantes da sociedade vem do direito de propridade (de escravos) (Finlley, 1980, p. 83). Esta ideia vem sendo questionada recentemente, a partir de uma reavaliação da relação entre o trabalho livre e escravo no que foi caracterizado como plantations (Mac Gaw, 2015).
Qual o papel e peso da escravidão para a Idade Média e, mais precisamente, para a Inglaterra Anglossaxônica? Para a Idade Média como um todo, há duas posições mais radicalizadas. A primeira defende que a condição de vida dos não-livres na Alta Idade Média seria praticamente coincidente com as dos servos medievais (Bloch, 1947). A segunda defende que o trabalho não-livre estava submetido às mesmas restrições do mundo romano e que, portanto, a Alta Idade Média seria tão escravista quanto (se não mais que) a Antiguidade romana (Bonnassie, 1985). Pelo menos desde a década de 1990, têm-se demonstrado muito mais a variedade regional das formas de trabalho que uma forma definida como os extremos mencionados. Esta variedade pode inclusive destacar como em determinadas regiões as relações de trabalho estavam mais próximas do que veio a ser o servo medieval enquanto ao mesmo tempo havia outras relações de trabalho que eram de fato muito próximas da relação romana de escravidão (Davies, 1996).
Os relatos sobre escravidão e a história da cristianização da Inglaterra Anglossaxã são conectados. De acordo com a anedota contada por Beda, a Inglaterra Anglossaxã foi “notada” pela cristandade (na figura do papa Gregório Magno) por conta de seus escravos. A anedota de Beda narra que Gregório foi até um mercado em Roma no quais jovens estavam sendo vendidos como escravos, e teria confundido a origem étnica dos jovens, que eram anglos (angli) com anjos (angeli) (HE, II, 1). Parte da historiografia creditou a esta anedota a decisão de evangelização da ilha (Mayr-Hartin, 1972, p. 57). Outra escrava anglossaxã famosa foi Batilda, que de pessoa escravizada chegou a ser rainha da Nêustria (na Gália). Sua hagiografia a apresenta como uma “pérola” que foi “vendida por um preço barato” (McNamara, 1992, p. 268). Beda também narra a história de Imma. Imma era um nobre que, ao participar do lado derrotado em uma batalha, finge ser camponês para não ser morto. Ele é então escravizado e é vendido, enquanto os outros nobre derrotados foram executados ainda no campo de batalha (HE, IV, 22). Também há material linguístico e legal que comprova a existência de escravos. O termo mais utilizado é þeow, mas o termo esne também aparece em charadas. Contudo, a gigantesca maior parte da evidência sobre escravidão e as formas de caracterização do trabalho escravo no período anglossaxão remetem aos séculos X e XII (Peltered, 1995, p. 41, 51). Arqueologicamente, a escravidão é até o presente praticamente invisível: a principal forma de identificação arqueológica deste fenômeno (grilhões, em especial grilhões coletivos) não foram encontrados remetendo ao período anglossaxão.
O trabalho escravo provavelmente foi utilizado em alguma escala na produção. Segundo Faith, pessoas escravizadas provavelmente eram propriedade de aristocratas e camponeses enriquecidos a ponto de poder adquirí-los (Faith, 1997, p. 60). Alguns destes foram “casados” no sentido de que lhes foi concedido uma casa e uma porção de terras (Faith, 1997, p. 70). Contudo, definir o estatuto social destas pessoas “casadas” é uma tarefa que dificilmente consegue ter um resultado preciso. Conforme Wickham aponta, tanto o mundo antigo quanto o medieval se referiam a pessoas escravizadas como servi, ancillae e mancipia. E embora o estatuto legal fosse de pessoa não-livre, "a relação econômica com seus senhores era efetivamente idêntica àquelas dos seus vizinhos, livres terratenentes" (Wickham, 2005, p. 261). Portanto, a autonomia econômica é mais significativa para entender o pertencimento de classe destas pessoas que puramente seu estatuto jurídico.
E existência da escravidão no período anglossaxão parece mais que documentada e comprovada. Contudo, em termos de relações fundamentais de classe, há de se pontuar alguns elementos. São eles: 1) não há evidência de qualquer forma de latifundia para o período anglossaxão; 2) não há evidência da utilização de equipes de escravos na produção; 3) não há evidência de que a aquisição, venda e disponibilidade de trabalho escravo sejam fundamentais na aquisição e status político; 4) não há evidência de que a utilização da força de trabalho escravo possa ser fundamental nos jogos de poder políticos; 5) parte da utilização da força de trabalho escravo talvez possa (segundo a proposição de Wickham) ser mesmo considerada força de trabalho camponesa. Neste sentido, não parece que a escravidão chegou a compor uma relação social fundamental daquela sociedade.
A leitura vigente sobre a escravidão também está em consonância com a proposta por Stenton. Stenton reconhece a escravidão em formas diferentes: pela derrota na guerra, pela condenação penal etc. Porém, a relação de escravização aparece individualizada, como algo apenas entre mestre e pessoa escravizada. Contudo, Stenton lê esta relação como consideravelmente menos relevante que a relação entre camponeses livres, dependentes e aristocratas, mesmo em períodos e regiões dominadas pelos escandinavos (a chamada Danelaw). A escravidão aparece como um grande medo social, um medo forte, significante e presente a ponto de impelir e motivar a participação do campesinato livre na defesa do reino (Stenton, 1970, p. 290). Embora em uma passagem Stenton defina que a existência de escravidão impeça a sociedade anglossaxã de ser chamada de democrática (Stenton, 1970, p. 314), o campesinato livre aparece como o contraposto à escravidão, e ao mesmo tempo guardião de sua própria liberdade. Por outro lado, na leitura de Stenton é justamente o empenho do campesinato livre que também impede que grandes parcelas populacionais (partes de reinos ou mesmo reinos inteiros) caiam na escravidão, tornando esta relação social mais relevante. Para Stenton as relações envolvendo a escravidão aparecem como: 1) individualizadas; 2) um direito de propriedade (também individual); 3) contraposta à liberdade de pequenos produtores individuais, que se reuniam para evitá-la. Desta forma, a leitura de Stenton sobre a escravidão é fundamental para caracterizar seu entendimento da sociedade anglossaxônica como liberal.
3.b) Campesinato
A definição de campesinato medieval é um tarefa árdua. Boa parte do desenvolvimento da historiografia sobre a condição de vida desta parcela da população atenta para as diferentes relações socias nas quais estão inseridos, os diferentes estilos de vida e a níveis desiguais de riqueza e poder (Hilton, 1975; Dyer, 2002; Wickham, 2005, p. 386). Ao mesmo tempo, enquanto a economia agrária dependia fundamentalmente do trabalho feminino, muitos dos termos de época e da forma abordada pela historiografia torna esta discussão majoritariamente masculina e masculinizada (Banham e Faith, 2014).
A defnição mais influente do que seria o campesinato ainda é a proposta por Wickham em sua obra magna Framming the Early Middle Ages. Para Wickham, enquanto a aristocracia precisa de muitos critérios para ser definida, o campesinato pode ser definido de forma mais fácil, uma vez que se trata de um conceito definido de forma "estritamente econômica" (Wickham, 2005, p. 386). A definição que Wickham avança é a de que um camponês ou camponesa é
um cultivador assentado (ou, mais raramente, um pastor), cultivando majoritariamente para a subsistência, cujo trabalho agrícola é realizado pessoalmente (ao menos em algum nível), e que controla o seu trabalho na terra. (Wickham, 2005, p. 386).
As principais diferenças do campesinato para a escravidão de acordo com este conceito é que a figura camponsa tem maior controle sobre seu trabalho e processo de trabalho; a segunda maior diferença é o acesso perene à terra. O campesinato não precisa ter a propriedade da terra. Eles podem ser posserios ou apenas tenentes (Wickham, 2005, p. 386). Ao mesmo tempo, o trabalho camponês é diferente do trabalho agrícola que trabalha com pagamento. Trabalhadores e trabalhadoras neste tipo de regime são relativamente desimportantes e geralmente utilizados como força de trabalho extra no trabalho agrícola (Wickham, 2005, p. 264). Ao mesmo tempo, o pagamento não se dá apenas em dinheiro ou moedas (ou ao menos não exclusivamente em moedas) (Naismith, 2012, p. 252).
A historiografia dedicada à Inglaterra anglossaxônica tentou formular seus conceitos de campesinato. Apesar de muito menos visíveis nas fontes primárias, a maior parte da população estava envolvida na atividade produtiva primária (Banham e Fiath, 2014, p. 2). Uma vigorosa tradição historiográfica atribui a comunidades anglossaxãs do período da migração e infiltração na ilha (entre os séculos V e VI) características de sociedades mais plana ou horizontal (Arnold, 1988; Hodges, 1989; Scull, 1993). Neste sentido, não haveria uma hierarquia social forte e definida. Segundo esta corrente de pensamento, a tendência de acúmulo de riqueza promovido pelo processo de conquista nos séculos VI e VII cristalizou as realezas que dominaram a história (e historiografia) do período anglossaxão (Faith, 1997: 5).
A "pessoa anglossaxã média" é um camponês, uma pessoa que iria cultivar o que ela iria comer, e que iria comer majoritariamente o que ela iria cultivar (Banham e Faith, 2014, p. 2). As mesmas autoras referenciam a autossuficiência dos camponeses. As pessoas comiam as carnes dos animais que elas próprias produziram, utilizariam as roupas que elas mesmos teceram, e produziram seus prédios e suas mobílias de seus próprios campos. O grande ponto de referência historiográfica para o estudo do campesinato na sociedade anglossaxã foi o trabalho de Rosamund Faith sobre o tema (Faith, 1997). Desde então, pouca atenção tem sido dispensada à produção, e em especial à vida quotidiana do campesinato (Banham e Faith, 2014, p. 1). Banham e Faith destacam que as grandes obras da economia alto medieval ou praticamente não olham para a esfera da produção (caso de McCormick, dedicado à questões monetárias), ou não aprofundam significativamente os aspectos específicos da produção (Wichkam) (Banham e Faith, 2014, p. 1, n. 1). O trabalho mais recente de Banham e Faith, contudo, é menos interessado em estruturas de classe e relações de classe, e foca majoritariamente em questões técnicas do trabalho agrícola e os aspectos geográficos deste.
O trabalho de Banham e Faith propõe uma divisão social chamada de "hierarquia bipartida" (two-tier hierarchy), sendo a principal diferença entre o nobre e o camponês. Para se referir a estes estatutos sociais, tal qual Stenton, Faith e Banham utilizam os termos em inglês antigo: eorl (nobre) e ceorl (camponês livre). Da mesma forma, ambas consideram as discussões sobre o significa do hide, debatido pela historiografia mais recente se se trataria de uma unidade de medida que significaria a inclusão de algumas pequenas comunidades e aldeias, contrastada com a regio, uma escala de medida que indicava uma medida maior (Faith, 1997, p. 29). Contudo, nesta recente obra de maior fôlego, optam por manter o hide caracterizado como lote camponês, aproximando-se da leitura de Stenton.
A obra conjunta de Banham e Faith é a mais recente síntese sobre o mundo camponês anglossaxão. Porém, ao optar por uma abordagem focada nas técnicas agrícolas, ilumina determinados aspectos das forças produtivas, e a questão das relações de produção acaba pouco cuidada ou simplesmente ausente. Assim, as questões das relações de propriedade fundiária, por exemplo, perdem força. Da mesma forma, a definição do que seria o campesinato no período não tem muito espaço. A consequência destas ausências é uma sublimação da figura dos trabalhadores e trabalhadoras agrícolas. O trabalho realizado (visível nos registros arqueológicos) é recuperado, enquanto que as pessoas que o realizaram se tornam pressupostas. Acabam recorrendo e sendo enquadradas em uma estrutura social próxima da definida por Stenton. Em outras palavras, por ausência de uma nova síntese sobre o mundo campesino desde Faith, as discussões sobre o campesinato anglossaxão prosseguem tintas das cores do germanismo liberal, ecoando as proposições quase centenárias de Stenton.
4) Conclusão
A elaboração sobre as diferentes sociedades germânicas na Antiguidade e na Idade Média estão invariavelmente marcadas pela formação da História como campo científico. No continente o germanismo se desenvolveu de forma a buscar elementos de aproximação entre os diferentes povos pan-germânicos, produzindo uma identidade étnico-racial (supra)nacional, que acabaria por ser desenvolvida pelos ideólogos nazistas. Nesta leitura, a grande unidade germânica antiga e medieval estaria já presente em Tácito, com a valorização de um campesinato patriótico e de uma aristocracia militarizada e terratenente, cuja harmonia social seria também responsável pelo seu status de conquistadores (no caso, do Império Romano).
Na Inglaterra, a apropriação deste passado se deu de forma a ser contrastada com o continente, evidenciando o que uma historiografia mais crítica (e outra nem um pouco crítica) chama de “excepcionalismo inglês”. Nesta leitura, a Inglaterra surge como uma sociedade baseada na pequena propriedade camponesa, industriosa, e cuja relação de propriedade individualizada foi responsável pela sua própria prosperidade. No seio desta prosperidade surgiram estruturas sociais e mecanismos de governo que seriam os embriões da Inglaterra moderna.
O desenvolvimento da historiografia mais recente não tem foco tão dedicado às questões teórico-conceituais, às dinâmicas classistas e/ou processos de transformação social. Embora a grande obra de Wickham seja proposta para responder estas questões de forma ampla, a historiografia especificamente voltada à Inglaterra não se apropriou e desenvolveu estas de forma satisfatória. Em outras palavras, o desenvolvimento técnico e o avanço dos estudos arqueológicos parecem não ter sido acompanhados das discussões conceituais e teóricas. Por isso a principal obra de síntese sobre trabalho agro-pastoril não avança na caracterização do significado de ser camponês no mundo anglossaxão. Por isso, uma outra síntese sobre a questão é necessária, levando em consideração estes pontos. E exatamente por isso o marxismo se apresenta como possibilidade interessante para o desenvolvimento do campo.
Fontes Primárias
Beda. (1969) Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum. Colgrave, B. e Mynors, R.A.B (trad. e ed.). Oxford: OUP.
McNamara, J. A., Whatley, E. G., Halborg, J. E. (ed. e trad.). (1992). Sainted Woman of the Dark Ages. Londres: Duke University Press.
Fontes Secundárias
Adams, I. (1993). Political Ideology Today. Manhcester: Manchester University Press.
Arnold, C. J. (1988). An Archaeology of the Early Anglo-Saxon Kingdoms. Londres: Routledge.
Banham, D., e Faith, R. (2014). Anglo-Saxon Farms and Farming. Oxford: OUP.
Bloch, M. (1947). Comment et pourquoi finit l’esclavage antique. Annales E.S.C, 2:1 and 2:2, 30-44 e 161-170.
Bonnassie, P. (1985). Survie et extinction du régime esclavagiste dans l’Occident du haut moyen-âge (IVe-XIe siècle). Cahiers de civilisation médiévale 28, 307–43.
Campbell, J. (1995). The united kingdom of England: the Anglo-Saxon achievement. In: Grant, A., e Sringer, K. (Ed.). Uniting the Kingdom: The Making of English History (31-47). Londres: Routledge.
Cannadine, D. (1995). British History as a 'new subject' - Policits, perspectives and prospects. In: Grant, A., e Sringer, K. (Ed.). Uniting the Kingdom: The Making of English History (12-28). Londres: Routledge.
Chadwick, H. M. (1905). Studies on Anglo-Saxon Institutions. Cambridge: CUP.
Dal Lago, E.; Katsari, C. (2008). The Study of Ancient and Modern Slave systems. In E. Dal Lago, Katsari, C. Slave Systems. Ancient and Modern (pp. 3-31). Cambridge: CUP
Davies, W. (1996). On servile status in the early middle ages. In: Bush, M. L. (Ed.), Serfdom and Slavery: Studies in Legal Bondage (pp. 225-46). Londres: Routledge.
Dyer, C. (2002). Making a living in the Middle Ages: The people of Britain 850-1520. Yale: YUP.
Faith, R. (1997). The English peasantry and the growth of lordship. Leicester: Leicester University Press.
Franco Jr., H. (2001). Idade Média - O Nascimento do Ocidente. São Paulo: Brasiliense.
Higham, N; Ryan, M. J. (2015). The Anglo-Saxon World. Yale: Yale University Press.
Hilton, R. (1975). The English Peasantry in the Later Midde Ages. Oxford: OUP.
Hodges, R. (1989). The Anglo-Saxon achievement: archaeology and the beginnings of English society. Ithaca: Cornell University Press.
Horsman, R. (1981). Race and Manifest Destiny. Cambridge: Harvard University Press.
John, E. (1996). Reassessing Anglo-Saxon England. Manchester: Manchester University Press.
Latham, R. G. (1851). The Germania of Tacitus with Ethnological Dissertations and Notes. Londres: Taylor, Watson and Maberley.
Lukács, G. (1968). Goethe and His Age. Londres: Merlin Press.
Finley, M. (1985). The Ancient Economy. Londres: Penguin.
Kirk, T. (2002). Nazism and the working class in Austria: Industrial unrest and political dissent in the 'National Community'. Cambridge: CUP.
MacDougall, H. A. (1982). Racial Myth in English History: Torjans, Teutons, and Anglo-Saxons. Londres: Harvest House
Mac Gaw, C. G. (2015). The Slave Roman Economy and the Plantation System. In: L. Da Graca, e A. Zingarelli (Ed.). Studies on Pre-Capitalist Modes of Production (pp. 77-111). Leiden: Haymarket Books
Maitland, F. W. e Pollock, F. (2010). The history of English law before the time of Edward I. Indianapolis: Liberty Fund.
Middleton, N. (1970). The Education Act of 1870 as the Start of the Modern Concept of the Child. British Journal of Educational Studies 18.2 (166-179)
Mosse, G. L. (1964). The Crisis of German Ideology. New York: Grosset and Dunlop.
Murphy, M.. (1982). Antiquary to Academic: The Progress of Anglo-Saxon Scholarship. In: C. T. Berkhout, M. Gatch, (ed.). Anglo-Saxon Scholarship - The First Three Centuries (1-17). Boston: G. K. Hall e Co
Myres, J. N. L. (1986). The English Settlements. Oxford: Oxford University Press
Naismith, R. (2012). Money and Power in Anglo-Saxon England, The Southern English Kingdoms, 757-865. Cambridge: CUP.
Nicolet, Claude. (2003). La fabrique d'une nation. La France entre Rome e les Germains. Paris: Perrin
Pedersen, Thomas. (1998). Germany, France, and the integration of Europe: a realist interpretation. Leicester: Pinter Press.
Pelteret, David. (1995). Slavery in Early Mediaeval England. Londres: Woodbridge.
Rio, Alice. (2017). Slavery after Rome, 500-1100. Oxford: Oxford University Press.
Scull, Christopher. (1993). Archaelogy, early Anglo-Saxon society and the origins of Anglo-Saxon kingdoms. Anglo-Saxon Studies in Archaeology and History 6 (65-82).
Smith, Justin E. H. (2012). ‘Curious Kinks of the Human Mind’: Cognition, Natural History and the Concept of Race. Perspectives on Science, 20 (4), 504–529.
Wickham, Chris. (2005). Framming the Early Middle Ages. Oxford: OUP.
Young, Helen. (2015). Whiteness and Time: the Once, Present and Future Race. Studies in Medievalism (24), 39-51.
Young, Helen. (2016). Race and Popular Fantasy Literature – Habits of Whiteness. Londres: Routledge.
Notas
Recepção: 06 Fevereiro 2020
Aprovação: 21 Julho 2020
Publicação: 01 Março 2021
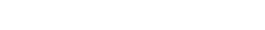
HTML generado a partir de XML-JATS4R

